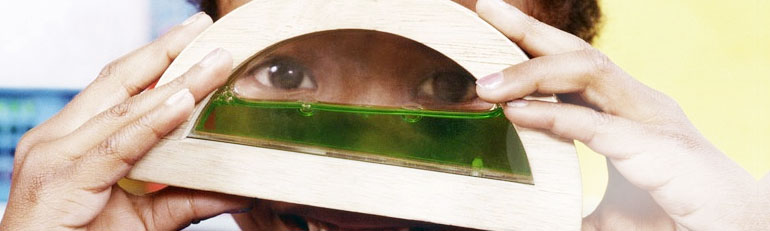A lógica do desenvolvimento na amazônia: seus impactos ambientais e os conflitos sociais
Os projetos de desenvolvimento implantados na Amazônia nos anos 70 e 80 - como o Polonoroeste, de grande impacto ambiental que resultou em inúmeras criticas de movimentos sociais e ONGs dirigidas ao Banco Mundial -, expandiram a lógica dominante de apropriação do território e de seus recursos e estimularam conflitos sociais caracterizados pelos porta-vozes do planejamento autoritário como conflitos demográficos, decorrentes de processos migratórios.
A concepção de “conflitos demográficos” do governo militar foi bastante eficaz para assegurar um certo tipo de desenvolvimento capitalista que supunha a Amazônia como um "vazio" social, ignorando a existência de outras lógicas locais de apropriação da natureza que não a mercantil.
O território de Rondônia, por exemplo, palco de projetos como o Polonoroeste e Planafloro, já compreendia diferentes formas sociais de organização e apropriação do espaço protagonizadas por índios, posseiros e caboclos que ocupavam áreas consideradas “vazias”. Economias baseadas no extrativismo, na exploração das florestas e dos rios e na apropriação da terra mediante o trabalho familiar expressavam uma ordem sócio-espacial própria. Esta ordem até então prevalecente foi ignorada pelos pressupostos de progresso e modernização implementados pelo Estado através da abertura de estradas e projetos de colonização privados e governamentais, vinculados ao PIN e ao PROTERRA, que promoviam o deslocamento de fluxos populacionais de áreas consideradas conflituosas, como o Nordeste, ou destinadas à modernização agrícola, como o Centro-Sul.
A chegada da modernização autoritária no espaço de Rondônia acirrou antagonismos e conflitos por terra, à medida que diversas formas de ocupação foram adotadas pelos órgãos governamentais: ora enfatizavam a colonização privada (via empresas colonizadoras do sul e sudeste), ora a colonização oficial (através dos PICs), ora a colonização dirigida (com os PADs), ora a venda de terras públicas (através do processo de licitação, como o caso da Gleba Burareiro) desvinculadas da colonização, ora o reconhecimento das “ocupações espontâneas” por grandes proprietários e empresas (mediante o ato de regularização fundiária), ora simplesmente a distribuição de terras, sem nenhuma infra-estrutura, mediante os Assentamentos Rápidos.
As diversas formas de intervenção do Estado, objetivando determinado tipo de ocupação e desenvolvimento local - através dos PICs, com ocupação de pequenos agricultores com base na produção de subsistência, depois com os PADs voltados para a produção de cacau e, mais tarde, com projetos agropecuários via licitações, atingindo áreas tradicionalmente habitadas -, provocaram deslocamentos populacionais contínuos e confronto entre as diversas formas de apropriação do território e seus recursos. As disputas por terra eram assim disseminadas pela própria atuação dos órgãos oficiais que legitimavam certos tipos de projetos (agropecuário, mineração, etc.), colonos (empresários, colonos do sul) e culturas (cacau, soja, café, arroz, feijão), em detrimento das formas locais pré-existentes.
Neste sentido, a legitimação governamental de um tipo de relação do homem com o território privilegiou categorias sociais economicamente poderosas como pecuaristas, latifundiários e madeireiros, neutralizando as possibilidades de organização social e resistência das populações afetadas, submetidas a um processo contínuo de deslocamento e expropriação social. Mas esta estratégia não eliminou totalmente a possibilidade das populações afetadas se apropriarem de terras ou manterem-se naquelas que habitavam. Um mecanismo local de apropriação expressou-se no aumento da ocupação espontânea de pequenos agricultores, mediante o trabalho familiar, que contrariava a estratégia propugnada pelos órgãos oficiais.
O fato de os órgãos oficiais classificarem a ocupação espontânea de “irracional” e seus protagonistas de “invasores” revela a recusa em reconhecer os conflitos como expressão da concentração fundiária, o que implicaria em reconhecer a responsabilidade governamental pelos antagonismos e pela “desordem”. Assim, os programas de colonização originalmente pensados como alternativas à reforma agrária passaram a ser associados à ideia de ocupação “desordenada”, relativa à “fixação do homem a terra”.
A pretensão à fixação do homem no campo expressou-se na proposta do Polonoroeste de “ordenar a ocupação humana e os conflitos sociais no território de Rondônia, fixando os pequenos agricultores a terra”. Contudo, a prioridade dada ao asfaltamento da BR-364, longe de proporcionar uma ocupação controlada, fez aumentar a migração para aquele território. Contradições no campo hegemônico fizeram-se perceber, posto que os órgãos governamentais ao mesmo tempo que pregavam um maior controle da migração, estimulavam-na, distribuindo títulos em áreas indígenas (através do INCRA) e incentivando projetos agropecuários (pela então SUDAM).
A mobilização de ONGs e movimentos sociais corroborou para trazer à luz as conseqüências sócio-ambientais das práticas governamentais e do Banco Mundial no Polonoroeste, marcando um momento de transição nas políticas do Banco. Criou-se um Departamento de Meio Ambiente e multiplicou-se o recurso a experts nas áreas de conhecimento relacionadas às questões ambientais. Se o problema inicialmente colocado pelo Banco era o de adequar a infra-estrutura às necessidades de modernização da economia e da expansão do capital, agora o problema passava a ser o de adequar o comportamento social às necessidades de se ajustar o crescimento econômico aos requisitos de ordem “ambiental”.
Para o Banco, esta ordem remete aos problemas de escassez de recursos naturais e de crescimento populacional. Para equacioná-los, apresentaram-se duas alternativas: a) mais instituições privadas para garantir uma alocação eficiente dos recursos; b) regulamentações destinadas a restringir o livre uso dos recursos naturais. O Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico, nesta perspectiva, passou a representar um instrumento que levaria em conta o fator escassez, uma vez que pretendia controlar as condições de acesso e uso dos recursos naturais e do território. O Zoneamento foi apresentado como o instrumento que iria orientar as políticas de investimento e de ordenamento do uso dos recursos ambientais, proporcionando a ocupação “racional” da Amazônia. A administração deste instrumento, no nível nacional, passou a ser disputado pelos órgãos oficiais, inclusive por aqueles que, através de suas práticas, não haviam demonstrado nenhuma preocupação anterior com o meio ambiente (como a SUDAM), terminando por ser administrado pela SAE-PR (antigo SADEN - Secretaria Assessora da Defesa Nacional), originária da burocracia militar.
O Zoneamento implementado em Rondônia, conhecido por Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico e instituído como exigência do Banco Mundial, ilustra o processo de “esverdeamento” dos projetos governamentais de desenvolvimento na Amazônia, evidenciando também sua dimensão geopolítica, expressa no papel coordenador atribuído a SAE-PR.
O ZSEE de Rondônia revelou também os diversos campos de disputa, opondo grupos sociais, instituições gerenciadoras do Planafloro, órgãos do Estado (governos estadual e federal) e experts em ZSEE. No âmbito dos grupos sociais locais, a luta em torno do ZSEE se traduziu em sua defesa pelo Fórum das ONGs, de um lado, e na defesa do livre acesso ao território pelas populações tradicionais, de outro lado.
No âmbito das instituições gerenciadoras do Planafloro (como o Banco Mundial e o PNUD) a luta se expressou, de um lado, na tentativa de legitimar um consenso em torno do discurso e práticas conservacionistas e, de outro lado, na disputa pela gestão do território entre as instituições gerenciadoras e o Estado (o INCRA, principalmente).
No âmbito do Estado, além da disputa pela gestão do território com as instituições gerenciadoras, apresentou-se uma outra disputa relativa à distribuição do poder entre os órgãos da burocracia estatal (como a SUDAM, a SAE e o IBGE, por exemplo). O Governo Estadual, por sua vez, permeado por divergências entre as práticas de seus órgãos e as do governo federal (como entre o INCRA, o ITERON, a SEDAM-RO e a SUDAM, por exemplo), expressou conflitos na não aceitação do ZSEE como lei e na não aceitação das unidades de conservação, quando incidissem sobre terras públicas e sobre propriedades privadas.
Os experts em ZSEE, por sua vez, propuseram um reordenamento espacial baseado em um mapa local que não levava em conta as especificidades do modo tradicional de apropriação e uso dos recursos ambientais pelos antigos ocupantes do território. Ou seja, o Estado e sua intelligentsia mostraram-se incapazes de elaborar uma proposta que respeitasse a ordem sócio-cultural das populações tradicionais. O que foram capazes de apresentar foi uma solução técnica baseada no saber científico que procurava neutralizar a luta social, naturalizando as relações de poder à medida que esvaziava o campo da disputa pelos recursos.
Em que pese os diversos grupos sociais dominados terem origens sócio-culturais e regionais diferentes e terem passado, no primeiro momento, por um processo de perda de referencial com relação ao meio ambiente físico e social, num segundo momento buscaram a reconstituição de sua identidade na condição de sujeitos das ações coletivas. Mobilizaram-se formando alianças - como aquelas proporcionadas pelo Encontro de Porto Velho - para se oporem ao processo de disciplinamento e expropriação a que vinham sendo submetidos. Apesar das dificuldades momentâneas para a formação desta aliança, um movimento de resistência em relação às práticas do Estado e do Banco Mundial, expressas no ZSEE, fez com que fossem relativamente superadas as divergências entre as populações tradicionais e os novos colonos, ou seja, entre índios, pequenos agricultores, seringueiros, ribeirinhos e os trabalhadores rurais migrantes, na tentativa de fazer reconhecer seus sistemas de uso da terra como formas de apropriação específicas e legítimas.
A análise do ZSEE, do ponto de vista das diferentes estratégias discursivas dos atores sociais, evidencia a preocupação de ONGs e movimentos sociais em refletirem sobre o impacto político de suas campanhas, a fim de neutralizar a apropriação retórica dos discursos vinculados à conservação ambiental, em detrimento das práticas e das formas de existência das populações tradicionais locais. Evidencia-se, igualmente, o espaço de permanente atualização do discurso do desenvolvimento que, agora sob a égide da “sustentabilidade” e da valoração ecológica dos recursos ambientais, via de regra, tende a estreitar a vigilância sobre o território, sem considerar apropriadamente a complexidade do tecido social que o constitui.
[por Maria Nilda S. Bizzo[1]]